A Fresta é uma coluna quinzenal dedicada às realizações do movimento surrealista e seus entornos.
Definir a poesia
Tradução de Natan Schäfer
Definir a poesia — a saber, de outra maneira que não a partir da perspectiva dos linguistas ou lexicógrafos —, eis aí uma tarefa que de saída se revela como das mais paradoxais. Por natureza, a poesia e o poético dão acesso à multiplicidade do sentido, bagunçando todos os limites e, consequentemente, recusando todas as definições; ou melhor, a poesia tem como efeito extrair dos domínios de sua definição aquilo que ela designa, colocando o objeto designado no domínio do inaudito. Em todos aspectos, a poesia é uma operação delicada que, com palavras, alcança dar expressão ao indizível [1]. Há muito tempo os poetas viram claramente o que une a poesia ao indefinido, ao impreciso e ao vago, a ponto de, em 1821, Leopardi considerar que a língua francesa tinha se tornado inapta à expressão poética, em razão de uma excessiva precisão geométrica das palavras que lhe constituíam e que não passavam de “termos” dotados de uma significação circunscrita com excessiva nitidez; com ainda mais facilidade, Leopardi era levado à explicar desta maneira a indigência poética do século XVIII francês, uma vez que a língua italiana emprega as palavras vago e vaghezza no sentido de “belo” e “beleza”, associando espontaneamente o belo ao indeciso, ao vago, ao vaporoso e a tudo aquilo que faz vagar o olhar, a sensibilidade e o espírito.
Por mais anunciadora que seja da arte poética verlaineniana, esta identificação do poético com a imprecisão não é menos excessivamente reducionista; e o próprio Verlaine [2] tinha outras cartas na manga. É no campo magnético de um romantismo, que já levava em si a modernidade e o simbolismo, e efetivamente a partir de Hugo e de Nerval [3], que se opera uma mudança decisiva de ponto de vista: a poesia não reside na escolha das palavras enquanto tais, mas na relação incandescente que se instaura entre essas palavras, sejam elas as mais precisas ou as mais triviais. A partir de então podemos considerar que o poeta não é mais apenas aquele que nomeia as coisas, mas sim aquele que renomeia as palavras, que lhes faz vibrar para além de seu sentido e bem mais intensamente do que na poesia do passado, que as salva da usura do uso e as exonera de sua trivialidade original. Imediatamente após termos lido “A Morte dos amantes” [4], a palavra “prateleiras” jamais voltará a exprimir o som baço e achatado que possuía antes da leitura. Ela passa a ressoar todos os harmônicos que lhe confere Baudelaire, impregna-se dos “leves odores” subindo das camas desfeitas e das “estranhas flores” desabrochadas “sob belo céu”. O poeta é então plenamente o redentor do verbo e graças a isso se eleva acima de toda e qualquer forma de divindade.
A partir desta perspectiva, o que quer dizer então o adjetivo “poético”? Esta palavra sempre me faz pensar na última página de O vermelho e negro: “Nunca essa cabeça fora tão poética quanto no momento em que ia cair” [5]. Para Stendhal, que não gostava das efusividades versificadas, o que é poético se manifesta bem mais seguramente no fio da existência — no momento em que este fio irá romper-se em um ser de exceção — do que em uma coletânea de poemas. E, infelizmente, é verdade que nem sempre a poesia e o poema se deram bem… No mundo ultraprosaico da sociedade mercantil, o poético é aquilo que consegue furtar-se à expropriação da prosa de todos os instantes e, assim, impor sua aura. Eis aí porque durante muito tempo os atos mais negadores, do crime das irmãs Papin [6] aos motins populares, condensaram tanta carga poética; ora, hoje, quando não são só os objetos são reprodutíveis ad infinitum, mas também os “sujeitos”, socialmente clonáveis antes de o serem biologicamente, o reconhecimento do poético se encontra turvo e perturbado tanto pela despassionalização dos sujeitos que seriam seus portadores, quanto pelo “tratamento” midiático conferido ao ato de ruptura, quando este último se manifesta. A quase instantaneidade do ato e sua divulgação, assim como a contemporaneidade do fato bruto e do comentário, tornam quase impossível qualquer transmutação do gesto em mito.
Nestas condições, onde ainda há poesia? Sem dúvida nas margens e em meio àqueles que procedem por si mesmos uma secessão para se encontrarem em tais margens. A poesia nos abre ao mundo, permite-nos perceber os signos e age em nós como um novo sentido, modificando radicalmente a qualidade de nossa percepção. Mas aquilo que há para ser percebido se tornou singularmente rarefeito. O achado, por exemplo, tal como até o fim de sua vida André Breton ainda podia realizar no mercado das pulgas, hoje é quase impossível; o terreno foi tão minuciosamente esquadrinhado pelos vendedores que restam somente migalhas às quais seria um equívoco conferir grande significação. Desde que a solidão se tornou um próspero mercado, o papel legado ao acaso na percepção do real foi tão reduzido, inclusive a nível de encontros, que temos quase certeza de que vamos deparar-nos somente com insignificâncias. Claramente nos damos conta disso quando, com todas nossas antenas ligadas, buscamos recolher objetos, traços e sinais em nossas “derivas”, muito frequentemente voltando para casa desesperançados e de mãos abanando.
Se for verdade que a prática da poesia consiste antes de mais nada em reconhecer que existe uma possibilidade de encantamento — o que sem dúvida e com frequência também equivale a fazer esse encantamento nascer —, estaríamos equivocados ao acreditar que o encantamento que buscamos se opõe a um mundo desencantado, na medida em que este último está conquistado pelo racional. Pelo contrário, vivemos em um universo enfeitiçado pela mercadoria e pelo espetáculo, e este enfeitiçamento torna o ar cada vez menos respirável. Basta ouvir as multidões mugindo sua alegria adulterada a cada gol marcado pelo “seu” time quando de uma copa do mundo qualquer. Animalização de massa e gregarismo. Face à explosão da multidão abjeta agitando suas bandeiras e vomitando hinos, a poesia é mais violentamente do que nunca forçada ao exílio. Mas então se coloca a questão mais angustiante: será que a poesia, como sentido permitindo decifrar o mundo e como potência maravilhadora de comoção, pode sobreviver por muito tempo sem uma promessa de revolução?
Joël Gayraud
Pálpebra auricular, § 313, p. 232-236.
Este teto tranquilo, onde caminham pombas,
Entre os pinhos palpita, palpita entre as tumbas;
O meio-dia a pino ali compõe com fogos
O mar, o mar, que desde sempre recomeça!
(…)
“Cemitério marinho”, Paul Valéry
(tradução de Roberto Zular e Álvaro Faleiros; Iluminuras, 2020).
São raros os que têm coragem e capacidade de pensar como quem salta de uma falésia rumo ao azul cerúleo e ultramar. E vai sem dizer que não é mera coincidência o fato de muitos destes se agruparem sob a insígnia do movimento surrealista. É por isso que poderíamos afirmar com Alain Joubert que ninguém se torna surrealista — se é surrealista [7].
Joël Gayraud (Paris, 1953) é um dos cavaleiros destinados a compor a galáxia ao redor da távola. Tradutor, ensaísta e, sobretudo, poeta, após atuar junto aos situacionistas nos 1960 e 1970, desde o final dos anos 1990 é um dos mais ativos membros do grupo de Paris do movimento surrealista.
Gayraud tem se notabilizado por suas traduções de textos latinos de Ovídio e Erasmo de Rotterdam, e italianos de Giacomo Leopardi, Cesare Pavese e Giorgio Agamben, assim como por seus ensaios, alguns dos quais reunidos no volume Pálpebra auricular (La paupière auriculaire, José Corti, 2018; sem tradução em português), do qual extraímos este texto que traduzimos e apresentamos pela primeira vez em português nest’A Fresta.
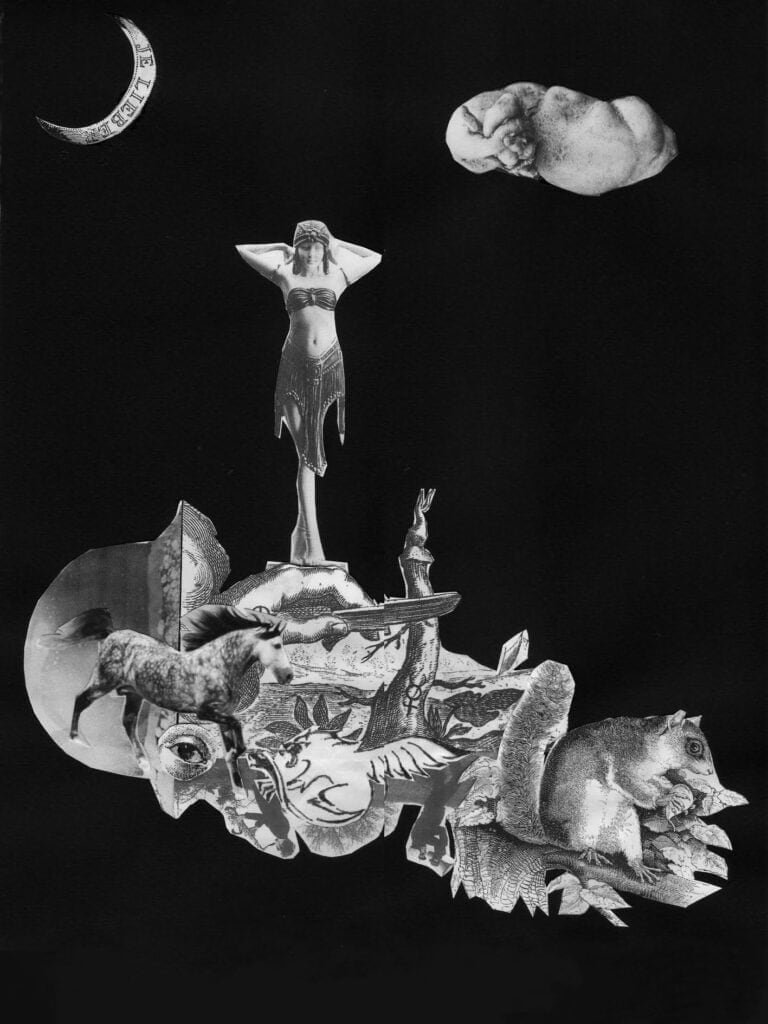
[1] Poderíamos justapor esta asserção de Gayraud à indicação sobre o potencial poético do sonho apresentada por Donald W. Winnicott em O brincar e realidade (Ubu, 2016), assim como à afirmação de Mia Couto, segundo quem “os sonhos falam em nós o que nenhuma palavra sabe dizer”.
[2] Paul Verlaine (1844-1896), poeta simbolista francês que, além de ter se notabilizado por uma grande obra poética, causou furor na sociedade francesa do século XIX por sua tempestuosa relação homoerótica com Arthur Rimbaud.
[3] Victor Hugo (1802 – 1885) e Gérard de Nerval (1808-1855).
[4] “A Morte dos amantes” é um poema de Charles Baudelaire (1821-1867), que figura no volume As flores do mal, aqui citado na tradução de Júlio Castañon Guimarães (Companhia das Letras, 2019).
[5] Tradução de Raquel de Almeida Prado (Companhia das Letras, 2018).
[6] As irmãs Christine e Léa Papin se tornaram famosas em 1933 após terem assassinado sua patroa e a filha desta última. O caso foi analisado pelo psicanalista Jacques Lacan no texto Motivos do crime paranoico: o crime das irmãs Papin, publicado na revista Minotaure naquele mesmo ano.
[7] No comovente livro Uma gota de eternidade (Une goutte d’éternité, Maurice Nadeau, 2007; sem tradução em português) — dedicado a sua esposa Nicole Espagnol e designado pelo autor como “híbrido” — Alain Joubert afirma que a História do surrealismo, de Maurice Nadeau (Perspectiva, 2008) foi um “livro cuja leitura viria a decidir toda minha vida, livro que me revelou para mim mesmo e fez-me compreender que ninguém se tornava ‘surrealista’, mas que se era surrealista — sem necessariamente saber disso —, ou não”.


